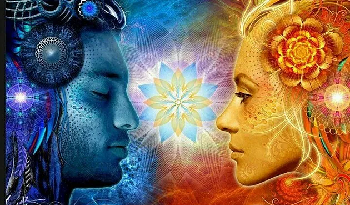Jurema – Conclusão

Bem no centro de um cômodo (de uma sala) (42) totalmente vazio de móveis, encontra-se a mesa de jurema. Sobre um pano estendido no chão, são colocados cachimbos (chamados de caqui e que serão usados de modo invertido para defumação), cruz de madeira, terço metálico, velas, garrafão com poncho de maracujá, cuias (cabaça), aribé da jurema (cuia grande com jurema – também chamada de anjucá), vidrinho com mel, pequena imagem de uma santa, fumo, novelos de fibras (jurema depois de pisada) etc. As pessoas sentam-se, com os maracás em suas mãos (cada índio tem o seu maracá), formando um círculo ao redor da mesa. A frente do aribé, o Mestre e o contramestre. Ao lado deste, a mulher que dá a festa (quem serve o poncho e a jurema – sempre o mestre é o 1º a beber da jurema, seguido pelo contramestre). Inicia-se o ritual com o mestre fazendo, com a fumaça de um cachimbo, uma cruz sob a superfície da jurema em descanso no aribé. Além da cruz, que divide o aribé em quatro partes, é feita também com fumaça do cachimbo um ponto em cada uma dessas partes (43). Mestre e contramestre tomam jurema e saem para a mata no exterior da casa a fim de fazerem o despacho. Dentro da casa o ambiente é descontraído. Houve-se, vindo do mato, o som de um apito. De dentro da casa todos respondem com os maracás (isso se repete três vezes). Mestre e contramestre voltam e saem os adultos, e quando estes voltam, saem alguns adolescentes. Já com todos presentes, o Mestre pergunta se não falta ninguém. Ajoelhados todos fazem uma oração silenciosa que se encerra simultaneamente e com o sinal da cruz. Iniciam-se então os pontos (cantigas ou toantes) (44). As pessoas entoam algumas cantigas sentadas e depois se levantam e começam a dançar os pontos (45). Começa-se pelo chamamento dos encantados (são chamados Mestre Atikum, Mestre Jupi, Rei Juremá, Rei Canindé, Caboco Velho, Manoel da Mata, Mestre Caçador, Mestre Caiporinha, Rei Caãngangue, Índio Tupã, Índio da Mata etc) e os transes se sucedem. Vem a parte da cura, quando os mestres que baixaram dão consultas, aconse-lham, vaticinam. Pratos com água colocados no chão junto a mesa recebem velas acesas. O médium diagnostica olhando a forma que a cera fez na água. Para cada pessoa consultada entoa-se uma cantiga diferente e a qual só cessa quando muda o paciente. Os remédios prescritos variam de conselhos (nunca mais beba cachaça, senão você vai morrer), até a produtos farmacêuticos. Depois das consultas, os toantes continuam com os encantos, cada qual com sua característica peculiar (e logo sabe-se quem está descendo porque geralmente se anuncia com seu toante), indo e vindo, pedindo e oferecendo, enfim, cada qual participando a seu modo. No momento de fechar a corrente, as pessoas, de pé, emitem sons e, com as mãos para o alto – uma delas segurando o maracá -, produzem movi-mentos (também sonoros) evocando um afastamento dos encantados.
Vale lembrar que esses trabalhos são sempre noturnos, que as pessoas permanecem descalças enquanto participam do mesmo, que não há indumentária obrigatória (embora o uso da farda de caroá seja o ideal), que defumações são repetidas diversas vezes durante o culto da mesma forma como a jurema e o poncho também são tomados muitas vezes. Quanto à jurema, vale salientar que os mais experientes consomem mais. Na roda que se faz para a dança, vão na frente o Mestre (46), seguido pelo contramestre, depois os homens adultos, as mulheres adultas e, por fim, adolescentes e crianças.
Assim, portanto, realiza-se um ritual de toré na sua forma mais íntima, ou seja, como trabalho oculto. Além disso, se o conteúdo de tais cerimônias muito se assemelha ao do catimbó de uma maneira geral – tal como descrito por Cascudo (1979) e por Sangirardi Jr. (1983) – e, em especial à festa do Ajucá descrita por Carlos Estevão de Oliveira (1942), os Atikum negam com veemência a presença do catimbó no interior da área indígena, associando-o a coisas negativas e, em suma, ao feitiço (47).
Dentro da tradição do índio, portanto, encontramos no uso da jurema a marca de oposição – de distinção – com relação à “parte civilizada”. A jurema, também chamada durante os trabalhos de Anjucá, representa, segundo um informante Mestre de toré, o sangue de Cristo, porque quando mataram Jesus, um dos apóstolos dele apanhou o sangue dele e mandou botar no pé da juremeira, que era pra ficar a ciência para os índios. Aí o civilizado não tem nada com a jurema, porque não tem o sangue”.
Dessa forma, se justifica o porquê da jurema – que representa o sangue de Jesus – ser também chamada de anjucá (“anjo cá” (48)) , ao invés de ajucá (49). E é também através da jurema que se justifica a diversidade fenotípica entre os índios, pois, uma vez que existem jurema preta, vermelha e branca, afirma-se na Serra: “é por isso que tem índio de toda qualidade, é porque tem jurema de toda qualidade”.
Vale mencionar ainda que, se entre os caboclos da comunidade indígena de Atikum-Umã, o toré é o sinal que garante o status indígena, as pessoas devem ser regimadas no mesmo para assim serem consideradas. Portanto, para ser índio o caboclo deve deter o regime de índio e, na medida do possível, a ciência do índio – esta entendida aqui como um corpo de saberes dinâmicos sobre o qual fundamenta-se o segredo da tribo. São saberes de caráter sagrado, de acesso restrito e proibidos a não-índios ou mesmo a índios de outros grupos étnicos.
É importante, contudo, ter em mente que o segredo nem sempre esconde algo, ele pode simplesmente existir por existir, sendo, sua eficácia, justamente esta: fornecer um mistério em torno da tribo, sobre o qual, independente do seu conteúdo, provê uma base para uma separação do tipo nós/eles – e é dessa forma que os Atikum se separam dos de-mais índios portadores da mesma tradição do toré.
Parece ser nessa direção que Reesink percebe o papel de separar os de dentro e os de fora, os participantes do saber específico e os externos sem conhecimento. Tudo isso cabe perfeitamente na função do ritual ser indígena e de construção e um grupo que seja um agente coletivo. Sendo assim, segredo não deriva por acaso do significado em latim de separação, aparte, exclusivo, inacessível, ressaltando como se trata de um meio estratégico que separa e une e aprofunda uma identidade/alteridade (Reesink, 1995:32).
É o segredo, portanto, que faz com que os Atikum ultrapassem uma indianidade genérica, para alcançar sua etnicidade, sua especificidade étnica. De fato, o toré é um ritual comum à maioria dos índios do Nordeste e estabelece a indianidade dos mesmos. O que proporciona aos caboclos da Serra do Umã ultrapassarem a simples qualidade de índios nordestinos para se afirmarem como a comunidade indígena de Atikum-Umã é justamente os segredos por eles gerados que promovem, independente de seus conteúdos substantivos, sua etnicidade em termos pragmáticos.
Mas, além disso, o segredo, como já ressaltou Mota (1992), pode também ser visto como uma forma de oposição à dominação, sendo, assim, um movimento contra-hegemônico: é uma prática social desenvolvida no intuito de escapar do controle das classes (religiosas, políticas, etc) dominantes – e, como insinuado, se foi o SPI que impôs uma tradição aos Atikum, eles desenvolveram segredos e mistérios em torno da mesma de forma, possivelmente e mesmo que inconscientemente, a se esquivarem da dominação daqueles que lhes impuseram o toré. O segredo é, por fim, um meio de autenticar, de alguma forma, a existência do grupo em sua especificidade – e mesmo que esta seja ilusória.
Acredito estar em jogo aí uma revolução simbólica contra uma dominação simbólica – e a estratégia mais plausível parece ser a de uma reapropriação da visão dominante sobre o grupo, por parte do próprio grupo. Ou seja, os Atikum parecem ter se apropriado de elementos de cultura impostos a eles pelos dominantes a fim de marcar, através disso, sua singularidade. Trata-se de refletir aos dominantes a imagem que estes projetam para o grupo – o que querem ver no grupo. Foi assim que os Atikum refletiram ao SPI o toré tal como este órgão queria ver enquanto traço de identidade étnica.
Todavia, como já apontou Epstein (1978), a etnicidade não deve ser vista só pela via do interesse – o que é ver o comportamento étnico só pelo lado racional. É impossível que um grupo étnico haja apenas racionalmente. Existe também um comportamento cognitivo (e afetivo) enraizado no inconsciente dos atores sociais. A identidade étnica, assim, precede aos interesses, ela é a pré-condição para a ação racionalmente interessada dos grupos étnicos – e se a etnicidade tem sua expressão mais visível no aparecimento de novas categorias sociais, o foco recai sobre uma classificação que separa as populações em termos de uma dicotomia nós versus eles.
Nessa direção, uma mudança de rótulo – como de caboclo para índio – não caracteriza apenas um movimento político, uma tentativa de obter os benefícios assistenciais de um órgão tutor através da ação coletiva. Tal mudança de rótulo também estabelece um contrato para uma etnicidade indígena, para um sentido novo e potencialmente estável de identidade, experiência e propósito divididos (Bentley, 1987:45) – e tais considerações tornam ainda mais complexas a análise de como um setor camponês do ser-tão nordestino veio a se definir como uma “comunidade indígena” distinta dos demais habitantes da região.
O processo que aí se iniciou é, na verdade, o que comumente denomina-se de etnogênese. Antí-tese do paradigma da aculturação, tal noção, segundo Sider (1976), refere-se à criação histórica de uma população que freqüentemente se inicia, depois de gerações de dominação, com pouco mais que um sentido de sua própria identidade coletiva (Sider, 1976:161). Nesse processo de criação de um grupo étnico, seus membros buscam gerar sua própria cultura, em contradistinção à cultura que flui de sua posição oprimida. O que ocorre, ainda segundo Sider, é uma tentativa de fazer sua própria história de dentro, e ao mesmo tempo buscando mover-se além das condições impostas sobre eles.
No mais, se os caboclos da Serra tiveram que exibir uma tradição ritual imposta pelo órgão indigenista para emergir no quadro social brasileiro como uma comunidade indígena, assim o fizeram, acatando, inclusive um regime tutelar (Oliveira Filho, 1988) que perdura ainda hoje.
Porém, ao aprenderem o toré, os Atikum foram se especializando cada vez mais em tal prática ritual. Constituíram um corpo de saber (revestido por uma áurea de mistério) denominado por eles de “ciência do índio”, a qual determina sua especificidade como grupo étnico através do seu regime de índio. Na verdade, esse corpo de saber é dinâmico e seus ingredientes mutáveis, pois novos elementos surgem durante os rituais e são incorporados pelos seus praticantes. Se o toré ainda se presta a exibições públicas (50), nesse momento ele não tem o mesmo significado do que quando realizado como trabalho oculto. Para os Atikum, o toré representa sua tradição, sua união e sua religião; e este sentido de identidade social e cósmica foi apreendido na comunhão que a jurema lhes proporcionou.
Acredito ter insinuado aqui um exemplo da gênese de uma área da vida social que cria suas próprias questões, cria uma ordem de preocupações, especialização e sistema de concorrências para impor uma visão legítima da religião (51). Trata-se (52) de uma, por assim dizer, teodicéia indígena sertaneja, da qual o toré Atikum, centrado na jurema, é um exemplo.
NOTAS
(42) Este é o lugar do sagrado. Quando o rito se realiza na casa de um Mestre, a sala contígua e quartos podem ser usados para descanso de pessoas, ou mesmo para bate papo entre adolescentes. Da mesma maneira, no exterior da casa do Gentio, as pessoas saem para urinar, descansar e conversar. A porta para o exterior, apesar de aberta para entrada e saída de pessoas, nunca pode permanecer assim, para que o contato entre dois mundos seja evitado. O perigo de colocar o sagrado no profano e vice versa já foi discutido por Douglas (1976) e se encaixa perfeitamente aqui.
(43) Se esta figura não se forma, não se pode dar início ao culto.
(44) Os dois pontos iniciais não podem ser registrados por gravador (trata-se da abertura de corrente – abrir portas -, é a entrada para os encantados ), proibi-ção esta que se estende a algumas falas e consultas, durante as quais, entoa-se um canto distinto para cada consulente. Na verdade, tal proibição visa resguardar seu regime, pois trata-se da porta que se abre para seus ancestrais e demais divindades de seu panteão (o qual é gerativo, pois surgem recorrentemente mais encantos). Interessante notar que também no catimbó as duas primeiras linhas são a da abertura da mesa (início da sessão) e a de licença (solicitada aos mestres invisíveis)
(45) Em vários momentos do ritual, o Mestre pergunta aos caboclos se estão gostando da festa – o que sempre é respondido afirmativamente.
(46) No caso do toré público, quem vai na frente é o enfrentatnte.
(47) Numa contradição aparente, o certo é que o imaginário dos habitantes da Serra está repleto da idéia de feitiço. Existem diversos exemplos concretos da presença de feitiço na área, inclusive de um que gerou a expulsão de uma família da mesma. No mais, falo em termos de uma contradição aparente porque o feitiço não é visto como prática indígena e existem diversas pessoas aldeadas na área que não são tidas como índios.
(48) Sabe-se que jucá é uma palavra Gê, que seria, a princípio, indivisível. Também, ajucá significa eu mato em Tupi. Contudo, esse exemplo su-gere algumas dicas quanto à possibilidade, não só de reapropriação de palavras – principalmente quando já não se fala mais a língua de origem -, mas também de se pensar em reatualizações dos mitos – dado as interpenetrações de cultura. Ou seja, os mitos Atikum, pelas características da formação desse grupo, não podem ser vistos dentro do quadro de referência fornecido pelo estruturalismo. Antes é o gerativismo que pode fornecer uma melhor apreensão da realidade mítica Atikum. O que está em jogo é uma criatividade cultural. Minha postura aqui parece estar em consonância com aquela de Barth (1975), quando este pensa qualquer cultura como um “sistema de comunicação em andamento” (“ongoing system of communication”).
(49) Ajucá, de acordo com Oliveira (1942), é uma festa em Brejo dos Padres, Tacaratu. Na verdade, área indígena Pankararu; índios estes com quem os Atikum guardam afinidades. José Ribeiro afirma ter assistido, entre os mestiços pancararus, do Brejo dos Padres, em Tacaratu, Pernambuco, à festa secreta do Ajucá, preparação da Jurema para ser religiosamente bebida. O velho Serafim, que dirigia a cerimônia, repetiu o ritual catimbozeiro de que seria origem sua raça (Ribeiro,1991:33). Além de anjucá e ajucá, Cascudo ainda comenta que “um dos reinos no catimbó é Vajucá, talvez corrução de Ajucá” (Cascudo,1979:24). Daí, se por um lado a jurema representa o sangue de Jesus, por outro, anjucá pode representar todo o panteão. Dessa forma, nos trabalhos, há uma comunhão com todos os encantos, santos católicos, antepassados, etc.
(50) Os Atikum costumam escamotear suas tradições rituais frente a outros grupos ou em apresentações públicas, como uma realizada por ocasião do aniversário do então governador de PE, Miguel Arraes, ou mesmo no toré quinzenal realizado junto ao posto indígena, ou o do dia do índio, etc.
(51) Religião entendida aqui como comunidade política (Weber, 1991a).
(52) E aqui volto a pensar em Weber (1991b).
![]()